Política&Subjetividade com Gradiva de Jensen/Freud: pensar, elaborar, perlaborar a conjuntura
- NOS - Núcleo Observando do Sul

- 22 de nov. de 2021
- 8 min de leitura
Atualizado: 22 de dez. de 2021
Marcia B.F.Rodrigues[1]
Prólogo
O artista não sabe verdadeiramente o que diz e diz mais do que acredita estar dizendo
“Acho que evitei o senhor por causa de uma espécie de relutância em conhecer o meu sósia” (FREUD, 1922, p. 396).[2]
Nossa discussão de hoje implica uma reflexão sobre a tarefa exigente de interpretação do pathos humano[3]. Entendendo o pathos (sofrimento/paixão), mas destacando as paixões do ser como fez Lacan: amor, o ódio e a ignorância, principalmente entendendo a ignorância como uma das vias de constituição do ser.
Tendo em mira a conjuntura/instante do Brasil, onde emergem situações de extremo sofrimento por descaso, omissão e extermínio; aceno para não cairmos no ceticismo ou desesperança. O convite aqui é pensarmos em movimento, em seguir adiante, em giros, como nos inspira o romance de Wilhem Jensen, Gradiva: Um andar de alguém que brilha ao avançar, que anda e faz andar, que se coloca na frente. Analogamente trago aqui a imagem de uma poesia de Gisálio C. Filho (2000), Carranca; que me remete a Casa-Museu do poeta Pablo Neruda em Isla Negra, Chile, onde as carrancas de proa estão posicionadas na entrada e assim como no romance Gradiva, as carrancas de proa “são referidas a mulheres destinadas a “abrir os caminhos do destino” de barcos e barqueiros a enfrentarem perigos, reais ou imaginários, nos mares e rios do mundo” (Cerqueira Filho, 2013).
Destacando o esforço de pensar a partir de um paradigma multidisciplinar, chamamos a psicanálise como uma teoria do comportamento humano (Roudinesco, 2000), que nos leva a refletir com Freud e Lacan sobre o alcance e as limitações da prática analítica em seus usos possíveis e ao movimento e desejo de Freud de mantê-la viva e autêntica no mundo.
A provocação aqui é instigar nossa imaginação sociológica tanto no acolhimento do mal-estar da civilização, como também, interrogar sobre o bem-estar. Esse exercício nos leva a inquirir e refletir sobre a obediência e a questionar e subverter a posição do discurso do mestre, talhado no iluminismo, que de tanta luz nos cegou como destaca Foucault em Vigiar e Punir (1987). “As luzes que descobriram as liberdades inventaram também as disciplinas”.
Pensar o pathos no Brasil hoje nos incita colocar em perspectiva de longa duração e pensar com a história (Carl Schorske 2000). Nessa direção, os estudos e pesquisas da historiadora e cientista política Gizlene Neder (2000), têm orientado em grande medida os debates no Grupo de Estudos sobre Subjetividade e Política (GESP/LCP/UFF) ao acentuar as permanências dos processos históricos de acento tomista que deita raízes profundas na sociedade brasileira a partir de um padrão de obediência e submissão; produzindo efeitos e atravessamentos no imaginário político e nas práticas de perversões aí contidas.
Desta feita, o desafio teórico e metodológico multidisciplinar se apresenta: Como tornar visível o lado obscuro do humano como observou Kant? O estranho familiar que nos habita? A “coisa”, das Ding (Freud) ou o Real (Lacan)? Por isso insisto, falar sobre o que não se sabe é o que reivindica o saber não todo da psicanálise e implica cultivar positivamente a ignorância, ao invés de tratá-la somente do ponto de vista do não querer saber. Interrogar sobre o que não se sabe é compreender que não se aprende somente nos livros, na teoria, mas na vida, nas miudezas, nas “coisidades”, no dizer do poeta Manuel de Barros, ou nos resíduos do objeto pequeno “a” de Lacan, ou nos substratos das lutas miúdas de Gramsci.
Esse desafio não é tarefa fácil, contudo o GESP se consolidou como espaço de experimentação qualificada na universidade pública onde o encontro de saberes de várias idades, gêneros, etnias e experiências têm proporcionado ensaios e pesquisas, sobretudo no como fazer falar o opaco, o obscuro, o não dito, o interdito. Dito de outra forma, como capturar metodologicamente os condensadores de gozo na política, como puxar o fio da teia e localizar topograficamente na dialética da reversibilidade do sujeito/objeto, do dentro/fora, lugares de interposição entre as instâncias noebianas, o nó entre o simbólico, o imaginário (fantasia) e o Real?
Tudo isso nos convoca a buscar no paradigma estético expressivo uma escuta sintomal no campo da cultura como instância simbólica da sociedade. Nestes termos, o encontro do GESP fazer circular a palavra a partir do romance Gradiva de W. Jensen e da interpretação que Freud faz deste. Gradiva é romance e é nome feminino, designado pelo gesto masculino de nomeá-la (Hanold-Jensen) e pela interpretação de Freud temos aí a inscrição do feminino e seu duplo.
Desde Freud a mulher não toda se impõe como metáfora: Afinal, o que quer uma mulher? A insistência em nomear a mulher por significantes múltiplos na falta de um só que registre o feminino aponta o recalque do desejo masculino expresso na dor de portar ou acolher e guardar em si o feminino. Por essa via podemos pensar com Lacan (1973/2003) a mulher como sintoma do homem e com Collete Soler (2005) que a mulher, mas do que desejar e ser desejada, como aponta Lacan, quer gozar tanto quanto o homem. Frisando que Soler não está falando do gozo dele, do homem, nem de um querer fazê-lo desejar, e sim de um querer dela, mulher, gozar. Assim, aludimos que Gradiva invoca a idealização da mulher perfeita e, portanto, inalcançável, inatingível, mas também o objeto causa desejo, que anda e faz andar. Fazendo um giro, chamo Maquiavel e a concepção da política como arte para fazer um contraponto com a perfeição, a idealização e a rigidez; apostando no jogo de cintura, na ginga, na dança, no movimento gradívico do passo de Gradiva.
Informados pela psicanálise que nosso encontro com o estrangeiro, o estranho familiar, o conhecido não pensado é marcado por atravessamentos que nos afetam pelas camadas justapostas na cultura como expressão simbólica da sociedade; inferimos que a análise do imaginário (fantasia) na política nos implica no exercício da crítica.
Segundo Christopher Bollas (2015) o momento estético constitui parte do conhecido não pensado e pode tocar na memória existencial por onde acontece a captura de gozo no sujeito. Momentos estéticos podem ser comoventes por causa da memória existencial que tocou. Nesse sentido, para Bollas, a experiência estética é uma memória existencial do momento anterior a comunicação da relação mãe bebê. Refere-se ao momento que antecede a habilidade de o bebê processar por meio do pensamento essa experiência. Em certo sentido apreendemos as regras da gramática de nosso ser antes de apreendermos as regras de nossa língua. Desta feita, podemos inferir que a arte pode proporcionar desencontros nos encontros estéticos com o elemento basal que suscita formas de apreensão de captura de gozo a qual o humano está submetido na sua sempre fracassada tentativa de retorno ao para sempre perdido que nos constitui como seres faltosos.
Em perspectiva da psicanálise leiga para Freud, em extensão para Lacan, no método clínico para Berlinck (2009), que nos convoca representar o pathos psíquico, ou no paradigma estético expressivo para Gisálio; propomos uma escuta sintomal no campo da cultura, entendendo as relações de força em grande escala e também nos domínios moleculares de sensibilidade e desejo (Guattari 1981).
Nestes termos, podemos investigar a partir da racionalidade estético-expressiva as variadas formas de manifestação na cultura dos sentimentos de infelicidade, melancolia, tristeza, padrão de obediência e submissão, vanglória de mandar, missão, derrota, humilhação, inferioridade, inveja, ódio, traduzidos numa vulnerabilidade psíquica naquilo que Gisálio denomina autoritarismo afetivo (2005), qualificado como via prussiana que condensa e desloca um complexo de afetos, emoções e sentimentos, por vezes inconscientes, que obstaculizam as práticas liberais e democráticas no Brasil.
Para pensar/elaborar/perlaborar a conjuntura/instante que ora atravessamos no Brasil, apresento a partir da interpretação de Freud do romance de Wilhelm Jensen, Gradiva, um mote para reflexão: O objeto causa gradívico ou o masculino que guarda em si o feminino no passo da Gradiva (aquela que anda e faz andar), nos enseja a encontrar no desencontro o desejo de seguir adiante, fazer giro do signo para o simbólico, da passividade do gozo para o movimento de criação em direção ao que há de possibilidade.
I
A partir dessas indagações sugiro para o debate as seguintes leituras:
1-Freud, S. Psicopatologia da Vida Cotidiana, 1901
Trata-se de uma coletânea de pequenas histórias que compõem uma amostra da presença do inconsciente em atos falhos do cotidiano de pessoas: esquecimentos aparentemente sem razão, lapsos de fala, enganos e erros. Tomando exemplos da própria vida, de seus pacientes, de colegas e pessoas em geral, Freud demonstra, num linguajar coloquial despido de termos técnicos, de que forma motivações inconscientes podem estar por trás de uma chave trocada, da substituição involuntária de palavras e nomes próprios por outros, de enganos fortuitos – fenômenos presentes no dia a dia de todos nós. Seu interesse é demonstrar como o inconsciente se expressa no cotidiano. Sua intenção é demonstrar que a psicanálise não se limita ao estudo das neuroses patológicas e pode ir além das fronteiras do consultório, incidindo e tentando interferir nos mais diversos campos do saber.
2-Freud, S. Delírios e Sonhos na Gradiva de W Jensen, 1907
O romance de Jensen foi tema do famoso estudo de Sigmund Freud O delírio e os sonhos na 'Gradiva' de W. Jensen (Der Wahn und die Träume in W. Jensens ″Gradiva″), de 1907 e inspirou vários surrealistas. Freud se encontra precisamente diante da possibilidade de demonstrar sua teoria do inconsciente ilustrando-a com a clareza da qual é capaz uma narrativa poética. Tratava-se de recolher achados do escritor e do poeta pela especial aptidão do artista para se deixar perpassar pelos elementos que apontam para o inconsciente. Portanto, em Delírios e Sonhos na Gradiva de W Jensen, Freud vai dar vazão ao seu desejo de ampliar o espectro de ação de sua teoria do inconsciente, a qual ele quis, desde os seus primórdios.
3- Freud, J. Questões da análise leiga. 1926-7
Em A Questão da Análise Leiga (1927), Sigmund Freud defendeu o direito daqueles treinados em psicanálise de praticar terapia independentemente do diploma de médico. Freud advoga com a expressão “análise leiga” a prática da psicanálise por não médicos e lutou incansavelmente para manter a independência do movimento psicanalítico do que via como monopólio da medicina à epoca.
4-Lacan, J. Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista da Escola, in Outros Escritos, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003, p. 248-264.
Escrito de Lacan que retoma a distinção das noções de aplicação à terapêutica e psicanálise em extensão e em intensão permitindo examinar as condições nas quais a psicanálise pode ser praticada. Assim, a noção de intensão é guia para extensão e aplicação da psicanálise. O que orienta a extensão da psicanálise como experiência original é a extensão de sua intensão, que responde com sua ética aos imperativos da atualidade e o desejo pela autenticidade da psicanálise no laço social.
Referências
Berlink, Manuel T. (2009). O Método Clínico: Fundamentos da Psicopatologia In Editorial
Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, São Paulo, V.12, nº3, Setembro
p 441-444.
Bollas, Christopher (2015). A sombra do objeto perdido. Psicanálise do conhecido não pensado, São Paulo: Escuta, págs 64, 65 e 71.
Cerqueira Filho, Gisálio (2000) in CROMOS, pp 90/91, Rio de Janeiro: Editora 7Letras, com ilustrações de Madalena Jara.
___________________(2013).Sufoco nas alturas. Sobre Páramo, de Guimarães Rosa. Passagens, Revista Internacional de história Política e cultura Jurídica, Rio de Janeiro: vol 5, n-2, maio-agosto, , p.168-204.
___________________(2005). Autoritarismo afetivo. A Prússia como sentimento, São Paulo: Editora Escuta.
Foucault, M. (1987). Vigiar e Punir. Petrópolis: Vozes, 1987, p.183.
Guattari, Félix (1981). Revoluções Moleculares: Pulsações Políticas do Desejo, Rio de Janeiro: Brasiliense.
Lacan, J. O Aturdito (1973/2003). In Outros Escritos, p.469. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
Neder, Gizlene (2000). Iluminismo Jurídico-Penal Luso-Brasileiro: Obediência e Submissão. Rio de Janeiro: Freitas Bastos.
Roudinesco, E. (2000) Por que a psicanálise?. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, p.130.
Schorske, Carl. (2000). Pensando com a História: indagações na passagem para o modernismo, São Paulo: Cia das Letras.
Soler, Colette. (2005). O que Lacan dizia das Mulheres. Rio de Janeiro: Zahar Editores.
Notas
[1] Professora Titular da UFES, professora permanente do PGCS/UFES, pesquisadora associada efetiva da AUPPF, coordenadora do NEI- núcleo de estudos e pesquisas indiciárias da UFES e coordenadora do LEPAS- laboratório experimental de psicanálise arte e sociedade
[2] FREUD, S. (1922). Carta de Freud a Schnitzler (14/05/1922). In: FREUD, S. Correspondência de amor e outras cartas: 1873-1939. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1960. p. 396-397.
[3] Texto apresentado no GESP – Grupo de Estudos sobre Subjetividade e Política do Laboratório Cidade e Poder (LCP/UFF em 28 de outubro de 2021


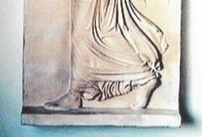



Comentários